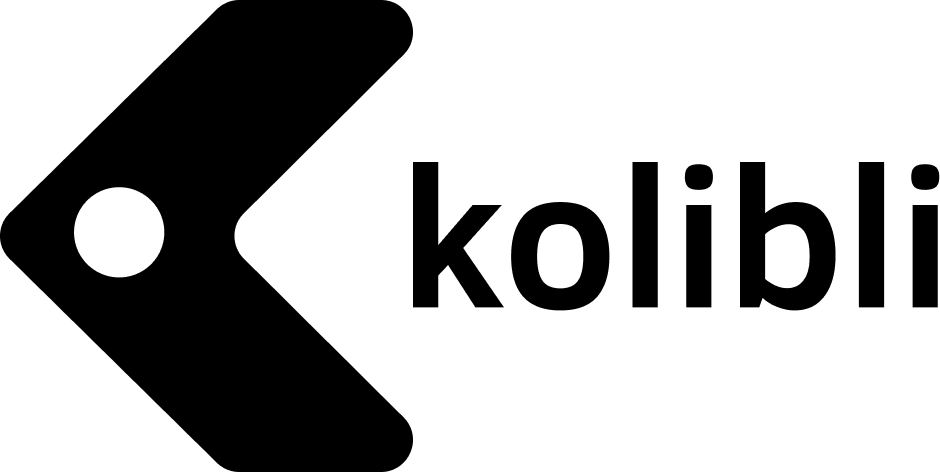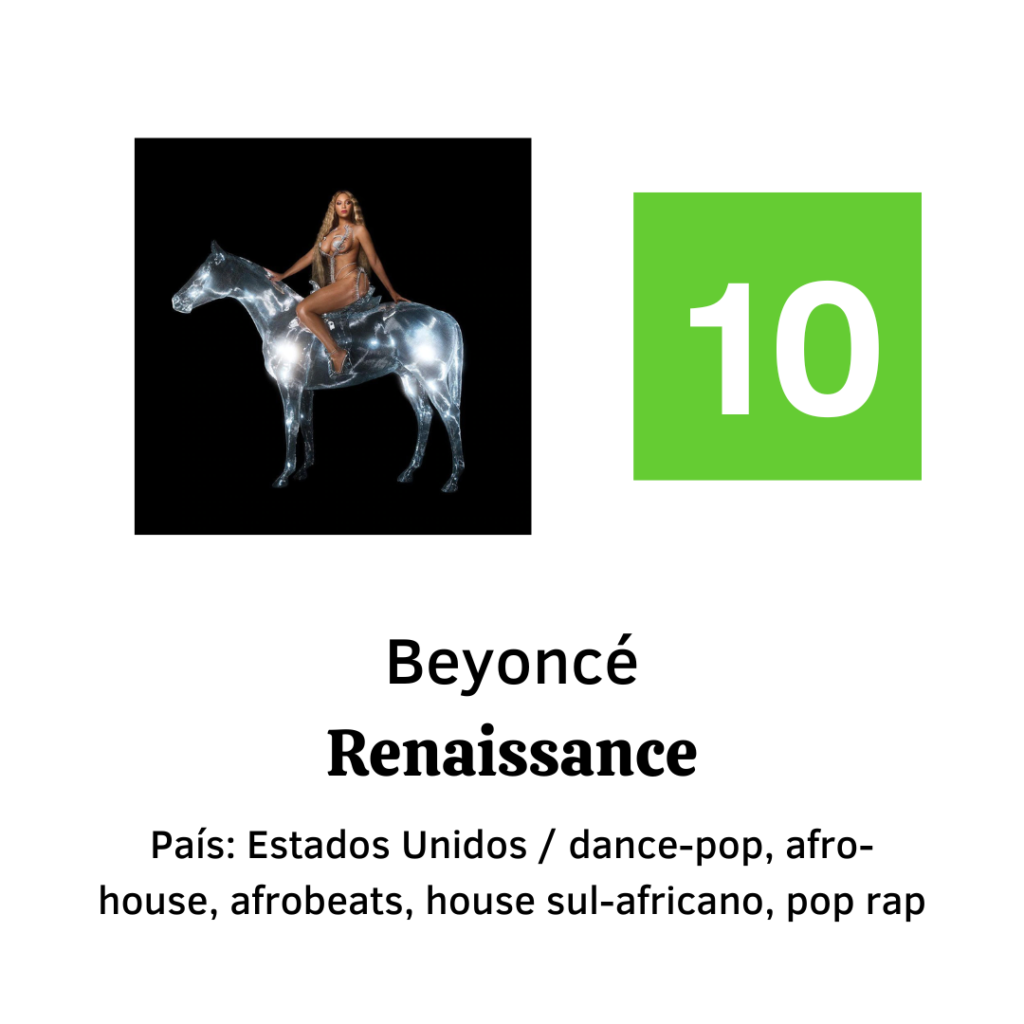
Lançado no final de julho como parte inicial de uma trilogia misteriosa, “Renaissance” é o primeiro álbum de estúdio assinado por Beyoncé como artista solo desde o já clássico “Lemonade” (2016). Entretanto, os fãs sabem que este não foi um período em que a cantora se manteve distante de verdade. É por isso que se faz necessário recapitular as fases anteriores de Beyoncé para que se entenda melhor o contexto em que “Renaissance” chega hoje.
No ano de 2018, a cantora divulgou “Everything is Love”, um aguardado álbum colaborativo com seu marido, Jay Z, mas o resultado ficou entre o mediano e o imemorável. Já no ano seguinte, 2019, Beyoncé lançou uma trilha-sonora muito interessante para o relançamento do filme “O Rei Leão” (1994). No projeto intitulado “The Gift”, a texana tomou para si o conceito de diáspora africana e se debruçou de forma muito honesta sobre o que realmente toca na África Sub-sahariana. Convidou artistas negros dos Estados Unidos e Reino Unido e os misturou com estrelas conhecidas do continente, como Busiswa e Burna Boy. “Homecoming”, registro audiovisual do show de Beyoncé no Coachella em 2018, chegou no ano seguinte e recebeu aclamação pela maneira com que a cantora revisitou clássicos para contar histórias de agora.
Se me perguntassem há alguns meses, eu diria que o próximo álbum de Beyoncé teria um retorno às pistas de dança. A minha hipótese acabou se confirmando, mas “Renaissance” não é nada do que eu havia imaginado. Aliás, ao ver os nomes das músicas antes do lançamento do projeto, temi pelo pior. “Break My Soul” é um bom single, onde Beyoncé coloca os fundamentos da música pop debaixo do braço, mas a letra generalista tirou um pouco do brilho. “Era só isso, então?”, pensava. Havia esquecido, mesmo acompanhando a cantora desde que me entendo por gente, que sempre podemos esperar mais dela.
Uma artista de quatro décadas

Beyoncé não teve grandes dificuldades financeiras durante o seu crescimento, mas também não recebeu tudo de mão beijada. Desde os nove anos ela é envolvida com a música, tendo passagem inicial pelo grupo Girl’s Tyme, pedra fundadora do que viria a ser o Destiny’s Child, projeto que vingou e a colocou no mapa. Apesar de não serem as únicas integrantes, o trio Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams é o responsável por marcar história. A partir de 2003 – e com a ajuda da antológica “Crazy In Love”– a cantora começou a trilhar sozinha uma estrada que a estabeleceu como estrela global pop e que atingiu seu ápice com os hits do álbum “I Am… Sasha Fierce” (2008).
É difícil manter-se relevante por tanto tempo. Beyoncé começou, então, a transição para a fase que estamos agora, que tomo a liberdade para cunhar de “era mitológica”. Neste momento, se instaura um desgaste perceptível, pois a cantora já não sentia mais prazer em agir como um mero robô da indústria pop. Os frutos de seu álbum seguinte, “4” (2011), não foram os esperados. Claro, um projeto que conte com “Run The World (Girls)”, “Countdown” e “Love On Top” passa longe de ser um fracasso, mas para os “padrões Beyoncé” se tornou um ponto de alerta.
As entrevistas se tornaram menos frequentes e Beyoncé, cada vez, mais uma figura rara. Um post em uma rede social aqui ou ali, mas no geral inacessível. Esta sensação, que tem um quê de Michael Jackson, é importante não só como estratégia para instigar o público a cultivar uma curiosidade permanente na cantora, mas também como proteção. “Será que ela espirra ou vai ao banheiro?”, alguém pode pensar. Parece ás vezes que não. Beyoncé se tornou praticamente uma ditadora de seu próprio país, evitando ao máximo que as narrativas saiam de seu controle. Em 2014, a briga entre a sua irmã Solange e Jay Z em um elevador a colocou novamente nas páginas de fofoca. A cantora foi monossilábica e lançou uma nota dizendo que tudo estava bem entre os dois. Em seguida, ironizou o acontecimento no remix da música “Flawless” e fez com que a narrativa voltasse para o seu domínio (como um trunfo).
Antes do incidente, Beyoncé lançava um álbum homônimo às vésperas do Natal de 2013 sem qualquer tipo de aviso ou promoção prévia. O projeto veio com um risco altíssimo pois subverteu a tática comum da música pop da época, que consistia em divulgar um ou dois singles durante alguns meses, e depois colocar o álbum nas lojas. Além disso, todas as faixas vieram com clipe, que era apenas disponível aos compradores. Até hoje, aquele 13 de dezembro de 2013 é uma das datas mais caóticas que o entretenimento mundial teve no Século 21 e deixou marcas profundas na música desta década, já que popularizou o formato surpresa e seria o responsável pela padronização na data dos lançamentos em todo mundo.
Três anos depois, o “mito” Beyoncé voltou a se aventurar quando abraçou a polêmica em torno de uma proposta de ativismo. Lançou “Formation”, música de pop rap com referências à cultura negra e aos ataques policiais que escancararam o racismo estrutural estadunidense. A canção chegou de modo surpresa, sem lançamento em plataformas de streaming (apenas no Youtube, mas de forma restrita) e recebeu performance no Super Bowl de 2016, evento de maior audiência na televisão americana, fazendo um rebuliço que rendeu até pedido de boicote à cantora.
Com uma chegada quase surpresa, Beyoncé então lançou o álbum visual “Lemonade” algumas semanas após a apresentação controversa. É o trabalho mais sincero e político da cantora, que revelou em suas músicas as etapas encaradas após descobrir que foi traída pelo marido Jay Z. Por mais uma vez, a artista tomou para si o protagonismo de sua própria história, que agora fala sobre dor, aceitação e perdão.
Ponto de renascimento
Dessa forma, Beyoncé chega aos seus 40 anos como uma artista que já fez praticamente tudo. Cantou pop, soul, funk, rock, country e brincou de ser rapper. Nada mais justo que o seu próximo álbum evoluísse para um retorno às festas, lembrando a fase que Madonna passou entre os álbuns “American Life” (2003) e “Confessions on a Dance Floor” (2005). Na época, Madonna decidiu cuspir no American Dream em um período marcado pelo 11 de setembro e a Guerra no Iraque, mas em seguida decidiu voltar de forma mais leve e resgatar o pop de antigamente.
Para Beyoncé, o contexto da pandemia de Covid-19 parece ter sido um fator de estímulo para se criar um cenário de escapismo após um período tão conturbado. Em um mundo de álbuns como “Future Nostalgia”, “Disco”, “After Hours” e “Róisín Machine”, a ideia não é uma novidade, mas o novo projeto de Beyoncé traça caminhos distintos. Grosso modo, nada em “Renaissance” havia sido feito anteriormente pela cantora, mesmo que algumas sonoridades cheguem perto, como na semelhança entre “Lay Up Under Me” (2011) e “Cuff It”.
Certas bases de “Confessions on a Dance Floor”, por coincidência ou não, seguem no novo álbum de Beyoncé, como a construção das músicas no modo “set de DJ”. Entretanto, ao contrário de Madonna, a cantora não abandonou o teor ativista. Ele está em todo lugar, mas quase que de forma enigmática.
“Renaissance” é praticamente um cavalo de Troia do bem, já que recorta anos de contribuições da música feita nos guetos da sociedade estadunidense e mundial (espaço dos negros, latinos, caribenhos e africanos) ao mainstream em uma série de faixas que parecem ingenuamente buscar pura diversão. Beyoncé colocou em uma hora de álbum referências que vão de Stevie Wonder a Afrika Bambaataa; dos anos 70 aos anos 10; de Nova York a Joanesburgo. Em cada uma das 16 faixas, a cantora se entrega ao máximo e vive o que canta com autenticidade e bravura. As letras em geral não seguem um rigor conceitual como em “Lemonade”, mas tampouco soam genéricas ou batidas. É o hedonismo à moda Knowles.
Da primeira à sexta música, as canções (desde já pedindo perdão pela emoção de quem escreve) se encaixam com maestria e as transições são de enlouquecer. “I’m That Girl” abre “Renaissance” como um agente do caos, onde Beyoncé se vangloria através de uma produção que lembra o experimentalismo e a atitude de “Yeezus” (2013). “Cozy” e “Alien Superstar” surpreendem pois mostram que, apesar da recepção morna ao redor do álbum africano “The Gift”, ela decidiu seguir investindo em gêneros africanos. Mesmo que diluído, o ímpeto e o atrevimento da house sul-africana estão presentes nas duas músicas e de forma fantástica. “Alien Superstar”, aliás, já é o hit improvável do álbum. Quando a estrofe [“Unicorn is the uniform you put on” (…)] bate, é um instante em que percebemos que o que está em jogo aqui é o trabalho de alguém que está uma prateleira acima dos outros artistas pop.
Abruptamente, “Cuff It” muda os rumos do projeto em torno de uma algo que os fãs estão mais habituados (como já dito, presente no álbum “4”). Com o dedo da lenda Nile Rodgers e harmonia vocal impressionante, “Cuff It” se embrenha na disco music com o carimbo de quem entende do assunto. O que demarca o fim da música é a participação do rapper jamaicano Beam, que faz ótima contribuição na quase interlude “Energy”. É um respiro cheio de personalidade que faz uma ponte perfeita entre “Cuff It” e “Break My Soul” com versos que se completam muito bem. Faço um elogio ao trecho que provavelmente seja o meu favorito de todo o álbum, onde Beyoncé faz piada com as Karens, termo usado para descrever mulheres brancas escandalosas em situação de privilégio racial.
I just entered the country with derringers
Acabei de entrar no país com armas
‘Cause them Karens just turned into terrorists
Pois essas Karens estão virando terroristas
https://www.youtube.com/watch?v=pyiXrr-crH8
Hora de falar sobre “Break My Soul”. A situação do primeiro single de “Renaissance” me faz lembrar imediatamente de “i” (2014) de Kendrick Lamar. O teaser que iniciou os trabalhos dos álbum “To Pimp a Butterfly” (2015) é chato pra caramba, mas quando inserido no projeto principal, “i” ganhou um novo significado e sensação de pertencimento. Claro, a música recebeu um revamp que fez com que ela tivesse mais sentido, mas “Break my Soul” não. Bastou inserir o sample de Big Freedia de forma crescente no final de “Energy” para que tudo fizesse sentido. Sim, Beyoncé não trabalha em um “9 to 5” e provavelmente não pede demissão de algo há muitos anos, mas aqui ela usa de uma “licença” para criar algo que se conecte com todos. Foi quando eu ouvi o hit house em uma boate, no início de agosto, que eu tive a certeza de que Beyoncé escreveu certo por linhas tortas. Em um período marcado pela “Grande Renúncia”, “Break My Soul” ganha um tempero a mais.
A partir daqui, o álbum abandona um pouco a coesão típica de um set, mas a festa continua. “Church Girl” começa lentamente com um fragmento de música gospel, mas em instantes se torna um r&b contemporâneo dançante misturado com trap. Ela surge como um hino improvável para as meninas da igreja que só querem se divertir. É uma tosqueira que poderia ser a trilha de alguma paródia de filme da Whoopi Goldberg, e por isso, genial.
“Plastic off the Sofa” é o momento mais intimista do projeto e evoca uma sonoridade moderna do soul. Parece algo que com certeza estaria nos dois primeiros álbuns de Janelle Monáe (com o aval de sua irmã Solange). Um momento chique que dá lugar a algo ainda mais refinado: “Virgo’s Groove”. Nesta faixa, Beyoncé entra em uma odisseia nu-disco hipersensual que se assemelha a uma versão progressiva de “Rocket” (2013). Esta dupla serve como um intervalo requintado para o “Renaissance”, mirando para as noites em casa com os amigos (ou crushes).
Em um projeto como esse, “Move” leva o fardo de ser a mais fraca do álbum, mas mesmo assim tem grande valor. Beyoncé soa imperativa na batida quase tribal da faixa, algo que não é uma coincidência já que Grace Jones faz participação. O ícone jamaicano, que trouxe contribuições enormes na música e na moda mundial, aparece aqui como uma prova lavrada em cartório de que Beyoncé fez uma boa pesquisa para o projeto. Vale lembrar que Grace não gostava muito da cantora, mas acredito que os últimos anos mudaram a percepção dela.
Já que chegamos no assunto “Caribe”, “Heated” aparece para diminuir um pouco a alta voltagem da música anterior e se torna um momento de pura contemplação. A fusão entre dancehall e afrobeats casa perfeitamente com o tema da música, que busca retratar um descanso merecido para Beyoncé (que mais uma vez se vangloria aqui e ali). Mas, o choque mesmo fica pro final. Mimetizando artistas como Sean Paul e Machel Montano, Beyoncé tira a canção da mesmice e coloca versos estilo freestyle cheios de personalidade com homenagens ao seu tio gay Jonny, influência muito presente no álbum. É “Yadda Yadda Ya” pra cá, som de leque batendo pra lá… Ao ouvir pela primeira vez, senti vontade de ficar no chão em silêncio por alguns minutos tamanho o baque. Por mim, aqui poderia acabar o álbum, mas ele segue.
Pelo nome, “Thique” entrega tudo que promete: safadeza sem fim. Não é um dos grandes momentos do álbum, mas desperta atenção assim como “Move”. A produção é pornográfica (sem hipérbole) e a letra tanto quanto. Beyoncé sussurra que “o cara achava que estava f*dendo ela bem, mas ela disse que era para ir mais forte”. Não sei ao certo se essa seria um queixa da cantora sobre os momentos íntimos com o marido Jay Z (o que seria preocupante, já que a música foi criada em 2014 e engavetada), mas este seria apenas mais um capítulo de um relacionamento que volta e meia tem a sua privacidade exposta.
Assim como no início do álbum, o final parece ter sido feito com o mesmo formato (coesão, criação de ápice e preocupação em deixa uma forte impressão). Em “All Up In Your Mind”, Beyoncé volta ao estilo “Yeezus” de “I’m That Girl” em uma produção arrojada e repleta de glitches. O lado rapper da cantora se mostra mais uma vez afiado e ela demonstra mais repertório criativo em flow e estilo. ”America Has a Problem” (Os Estados Unidos têm um problema) chega como mais uma grande trollagem aos que esperavam uma faixa com algum tipo de denúncia social. No fim, recebemos um pop rap com presença e muita classe. Brasileiros poderão passar por ela e notar uma semelhança com o nosso funk, mas na verdade não é bem assim. A faixa vem do atlanta bass, uma versão mais melódica do miami bass, gênero que (aí sim) tocava nos bailes do Rio de Janeiro nos anos 80 e 90 antes do funk que conheceríamos através do DJ Marlboro. De qualquer forma, Beyoncé soa excepcional (principalmente nas pausas com aquele “no!” descarado).

Como tantos outros momentos de “Renaissance”, “Pure/Honey” é daquelas músicas que poderiam render um texto à parte. Dividida em duas partes, “Pure” inegavelmente coloca Beyoncé no ponto mais gay de sua carreira e faz referências claras ao gênero ballroom, popularizado nos anos 80. É um estilo de música eletrônica mais abstrata, com menos enfoque na melodia e criada para ser trilha de concursos de dança em boates LGBTQIA+. A base para a canção é “Cunty”, da drag queen Kevin Aviance, e mostra Beyoncé desfrutando do ritmo como se sempre fizesse isso.
Em entrevista para o site Vulture, Avince disse que não sabia que seria sampleado, chorou quando ouviu a música e enfatizou como esse gesto de Beyoncé havia sido como uma carta de amor para a comunidade queer negra estadunidense. A drag também ficou muito emocionada com a presença de Moi Renee, que é sampleada no final da segunda parte da faixa, “Honey”. Aqui, Beyoncé tomou notas com Prince e fez as suas próprias “I Would Die 4 U” e “Baby I’m a Star”. A transição entre as duas metades é quase no estilo pot-pourri (em outras palavras, medley), e que dá a sensação de que a música foi feita para as grandes audiências (como o próprio “Homecoming”).
No lendário “Purple Rain” (1984), Prince teria então passado por esse momento e finalizado o álbum com a apoteótica balada que leva o mesmo nome (e que até hoje é o seu maior hit), mas Beyoncé tomou outro caminho. A energia estava lá em cima e ela não hesitou em ir mais alto. Desta forma, “Summer Renaissance” fecha o projeto de forma quase soberba. Um álbum com estas referências pedia um momento “Donna Summer” e ela realmente levou isso a sério. Com a interpolação de “I Feel Love” (1977), uma das músicas mais importantes da história, Beyoncé fecha o projeto com um manifesto resumindo tudo que foi trazido no álbum.
“Eu quero fazer “house” em você¹ e fazer você usar meu nome
Eu vou casar com você e fazer você tatuar seu anel
Eu vou te levar até o fim
Baby, eu posso te levar até o fim?”
¹ A tradução do Genius coloca a frase “I wanna house you” com o sentido de “eu quero te abrigar”, mas já que a house foi um tema recorrente do álbum, coloco essa interpretação.
A cantora não poupa a garganta em “Summer Renaissance”. Ostenta atitude e um melisma viciante entre a estrofe e o primeiro refrão (“the waaaaaay”). Coloca os pés na Hi-NRG, e assim, na música eletrônica, que é um local que nunca foi muito familiar para Beyoncé. Nomes de grifes e pedidos de aplauso fecham a canção em uma crescente, como se este fosse o momento em que rolam os créditos no filme que acabamos de presenciar.
Para fechar o assunto

A música popular ocidental nunca esteve tão sem graça, mas artistas como Beyoncé seguem fomentando uma esperança de que as coisas possam ser transformadas. Como dizem por aí nos livros de autoajuda, a mudança começa dentro de nós e isso ela faz com precisão. “Renaissance” é a prova de que é possível fazer música pop com densidade sem precisar soar como um panfleto chato de diretório acadêmico. A habilidade com que ela caminha sobre diversos gêneros de música feita por grupos marginalizados e os homenageia é coisa de profissional.
Evidentemente, Beyoncé não é uma chinelona qualquer. É uma mulher milionária, com tempo para viver de música e a todo instante. Tem os melhores produtores do mundo a um telefonema de distância (e aliás, um aplauso para The-Dream, Honey Dijon, Skrillex e tantos outros que fizeram “Renaissance” acontecer). Pode montar um campo de compositores a qualquer momento. O ponto que trago é que, mesmo tendo tudo isso, a maioria dos artistas do momento estão muito ocupados com a própria preguiça e falta de ambição. Onde estão os artistas (não falando dos independentes) dispostos a mudar o jogo?
Há quem critique a extensa lista de creditados e o uso excessivo de samples, mas esse é um pensamento tão mesquinho sobre a música como arte. É um ataque a DJ Shadow, The Avalanches, à música eletrônica, ao hip hop mundial e tantos outros que fizeram obras que marcaram época por saberem que criar muitas vezes é ressignificar. Ou melhor, como Beyoncé traz agora, fazer renascer. Todos os samples aqui presentes contam uma história ou funcionam como o encaixe perfeito, sendo o “DJ Booth” no início de “Alien Superstar” ou “Miss Honey” em “Pure/Honey”.
“Renaissance” é um projeto que chega com o status de clássico instantâneo. Quanto mais você o ouve, mais vai encontrar coisas novas que passaram despercebidas. Eventualmente, até defeitos. Por mais que “Move” ou “Thique” não sejam as melhores, ou até que a proposta de DJ mix não seja seguida a risca, não existem maus momentos em “Renaissance”. É possível fazer algo ainda melhor que isso? Não sei, mas não me atrevo mais a duvidar. Por enquanto, deixo aqui a minha nota 10.

País: Estados Unidos
Para quem gosta de: pop estadunidense, house, afro-house, dance-pop, afrobeats, ballroom
Comece por: “I’M THAT GIRL”
Melhores músicas: “ALIEN SUPERSTAR”, “ENERGY (feat. BEAM)”, “BREAK MY SOUL”, “HEATED”, “CHURCH GIRL”, “SUMMER RENAISSANCE”, “COZY”, “I’M THAT GIRL”, “PLASTIC OFF THE SOFA”, “PURE/HONEY”, “VIRGO’S GROOVE”, “AMERICA HAS A PROBLEM”, “CUFF IT”.
Errata: na foto que aparece o tio de Beyoncé, foi publicado que ela estaria ao lado, mas na verdade é Tina Knowles, sua mãe.
Gostou do texto? Compartilhe com os amigos e siga o Kolibli nas redes sociais para que o site continue crescendo!
🤝 Considere também colaborar com o Pix do Kolibli! O site tem gastos salgados de manutenção e com a sua ajuda você estimula a produção de mais conteúdos sobre música global no Brasil. Chave: pix@kolibli.com
Leia também:
Ranqueamos todos os álbuns da Beyoncé
Com o razoável “Versions of Me”, Anitta deixa claro que não gosta de fazer álbum
Com impactos da Guerra na Ucrânia, Eurovision 2022 registra 161 milhões de telespectadores
Criamos uma playlist em homenagem aos 30 anos de independência da Ucrânia